por Mayk Oliveira,
poeta e navalhista assistente
Há livros que se impõem já nas primeiras páginas com uma poética que desafia as convenções ao tratar de dores, desejos e descobertas. É dessa maneira que se apresenta Hermes Coêlho no livro de poemas: Eclipse (Patuá, 2024). O livro organizado em quatro partes apresenta na primeira delas, intitulada “a letra h” a força do silêncio que se impõe não apenas como ausência de som da letra, mas como imposição e apagamento da norma. O “H” do seu nome, essa letra muda, cicatrizada, que um dia foi agouro, torna-se o signo maior de sua poética. O “H” é a inicial do homem que não pôde ser, da voz que foi calada, da identidade que foi reprimida. No entanto, para o autor é o ponto de virada: é o sopro antigo que se torna vento soprando a resistência. Hermes nos conta, que esse “H” já foi dor, vergonha, silêncio imposto por políticos, por pastores, por desejos alheios. Mas agora é liberdade imanente. Ele o transforma em linguagem, o faz sangrar poesia. A palavra, despida de seus adereços, de sua morfologia enfeitada, desfila e vai sentar-se ao lado de más companhias, veste o desvio e proclama sua autonomia semântica. A palavra por assim dizer se torna poesia que fere e cura, que queima e transborda.
Ao longo desses versos, percebemos que as palavras, uma vez libertas, cortam. Cortam mais do que faca. São bisturis que rasgam a carne da memória, da pele, da alma. A linguagem não é abrigo, é lâmina. E o corpo do poeta está inteiro banhado em sangue. Não um sangue qualquer. É o sangue da lembrança, do afeto, do trauma, da descoberta da soropositividade. O HIV aparece como uma presença oculta, mas pulsante, um fundo vermelho que colore todo o poema. É o corpo vulnerável e ao mesmo tempo, insurgente; esse corpo fala; esse corpo escreve; esse corpo quer expurgar a dor — numa mescla de expor e expurgar — e transformar a ferida em símbolo. Hermes escreve com a carne viva, com os ossos expostos. E assim, aprende com cada corte, aprende que pode ser espinho na caatinga, sim, mas também chuva, também afago, também poesia.
Na segunda parte do livro, intitulada Eclipse, marca um momento de virada íntima e existencial, em que o autor relata a descoberta da soropositividade utilizando esse evento como metáfora de apagamento e renascimento. De maneira dilacerante e ao mesmo tempo lírica, se dá a relação entre destino e desatino, como o próprio poema que abre a seção já sugere: “o destino/ gigolô dos meus dias/ me deu não o que eu merecia/mas o que o corpo precisava/desatino”. É nesse ponto que o verso muda de tom: menos ornado, mais direto, quase técnico, como se buscasse compreender racionalmente aquilo que o atravessa emocionalmente. A escrita se torna mais densa, quase técnica, ao fazer analogias com sistemas de computador invadidos — firewalls, cavalos de troia, hackers — para representar a invasão do vírus e a sensação de vulnerabilidade, como se seu “sistema” tivesse sido corrompido. Ao mesmo tempo, a instalação do “antivírus” se dá nas relações humanas, apontando para o afeto como forma de reconstrução simbólica. O autor também recorre repetidamente ao vocabulário médico — hospitais, médicos, o termo CID, soletrado como C-I-D — para evidenciar o peso da nomenclatura clínica sobre sua identidade, marcada por uma “chaga invisível”. Essa invisibilidade se aprofunda ao se tratar da sexualidade: fala dos esconderijos que criou para proteger-se, e que, ironicamente, o afastaram da real proteção. Fala do medo de ser descoberto, do sofrimento silencioso, da depressão que se inicia, da instabilidade em sua vida profissional como jornalista e poeta. O autor olha constantemente para trás, lamentando os excessos de cuidado para esconder quem era, até perceber que esse esconderijo o afastou de si e da proteção. Ainda que atravessado pela dor, pelas visitas ao médico e à depressão, pela incerteza profissional, ele emerge desse processo com um novo senso de identidade e orgulho porque agora o verso, enfim, não olha mais para trás.
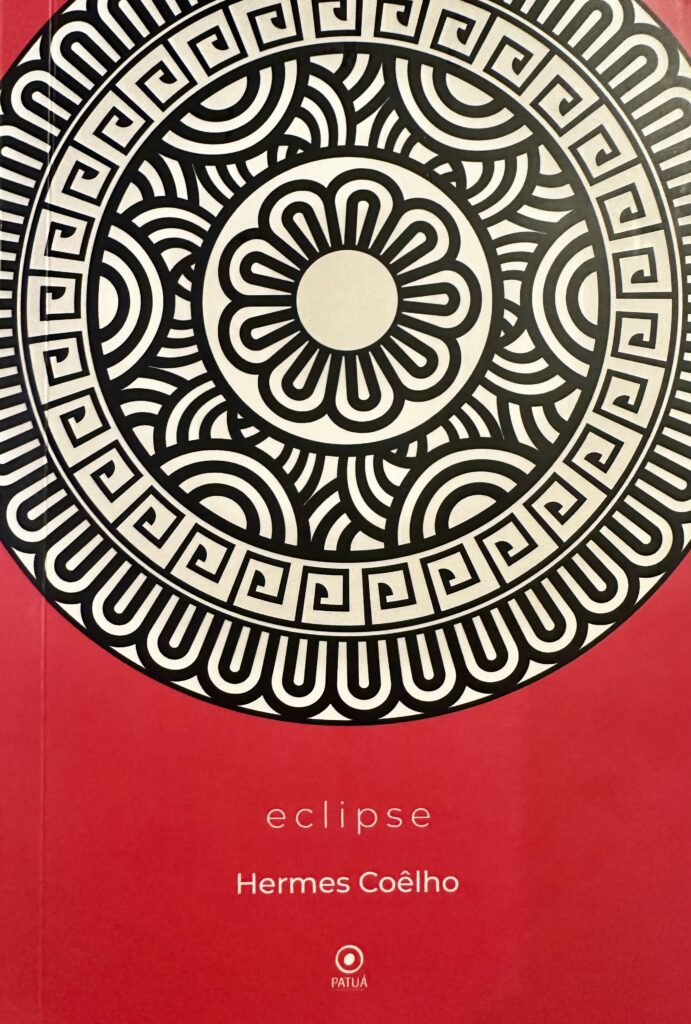
Na terceira parte, Invisíveis, o autor realiza um movimento de transubstanciação: converte dores, segredos e silêncios em poesia erótica e afetiva. Os versos homoeróticos aparecem como mantos que cobrem, e ao mesmo tempo revelam, os corpos nus. Identificamos aqui a presença de um caminhar mais leve, mais seguro, em que ele pode finalmente demonstrar seus afetos, admitir seus encantos, observar a beleza de outros corpos e, com eles, descobrir-se. O corpo masculino, exaltado e desejado, é agora celebrado com analogias sensoriais (o sal do mar, o toque, o encontro) e também com a entrega subjetiva de despir-se de roupas, de alma, de comparações. Trata-se de um desnudamento amplo, que permite ao autor falar, ainda que poeticamente, das cicatrizes que carrega e do desejo que agora se assume como legítimo e pleno. Essa parte marca também a superação de uma espécie de fome antiga, insaciada, que se transforma em apetite poético. Ele fala dos homens invisíveis que desejava, daqueles com quem não pôde interagir, e do lamento por esse tempo perdido. Mas assume a carne como espaço de encantamento “feita para ser devorada”, diz ele, com as mãos, com o tempo, com imaginação de um “velho devasso e um jovem sibarita”. Compara-se a um cigano, aquele que antecipa o porvir, e enlaça desejo, arte e erotismo numa dança delicada entre o amor e o deleite, entre ser possuído e possuir. Seu desejo, antes assombrado, agora assombra às claras transformando-se em poesia que estilhaça convenções. A poética do desejo não esconde mais sua existência — pelo contrário, ela a celebra
Na quarta parte, “Divindades”, o autor faz de seu poema um altar múltiplo e rebelde. Convoca deuses gregos, cristãos e entidades da mitologia brasileira como o Cabeça de Cunha, criando um panteão lírico que mistura o sagrado e o profano, a fé e a crítica. A denúncia é clara: há uma tentativa histórica de apagar outras religiões, outras formas de crer, de rezar e de existir. Contra essa imposição, o autor propõe uma leitura poética de Cristo — como o João o leu: verbo, poesia, ato. Não o Cristo das igrejas frias, nem o Cristo dos que fazem comércio com a fé alheia. Esse Cristo é movimento, é verbo encarnado, não dogma. A imagem do autor como filho de Prometeu costura essa rebelião sagrada. Ele, como o titã grego, rouba o fogo dos deuses e o devolve à humanidade — conhecimento, arte, poesia. Sua fé é prometeica: desobediente, luminosa, feita de palavras que ardem.
A poesia de Hermes no livro Eclipse tem gosto de lágrima, disfarçada de água da chuva. Tem o toque seco do Cerrado, mas também a brisa da madrugada depois do temporal. É o corpo maculado, mas que se recusa a ser apenas ferida; ele é também flor, vento, verbo. Os versos são passos rumo ao sonho um que antes era pesadelo, mas que agora, com a palavra afiada, começa a ganhar forma. Uma nova escuta que não se curva mais aos ruídos sociais e segue o compasso do próprio coração. É um renascimento sereno, mas firme, que reafirma sua existência com orgulho, beleza e poesia.

Hermes Coêlho é poeta e jornalista, formado pela Universidade Estadual do Piauí. Nascido em Teresina-PI, vive em Brasília desde 2010. É chefe de reportagem da TV Senado e apresentador do programa Cidadania. Em 2000, venceu o Concurso Novos Autores – Prêmio Cidade de Teresina, com seu primeiro livro, “Nu”. Em 2023, publicou, pela editora Patuá, “Violado”. “eclipse”, publicado pela Patuá em 2024, conclui a “Trilogia do Trauma” do autor.



Esse rapaz manda muito bem! Interessante a fala de poeta.